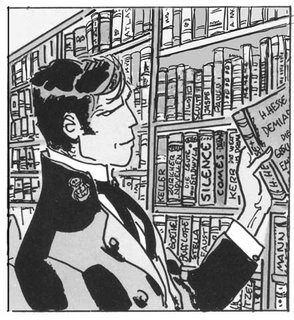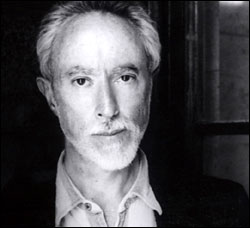III
Conto-te, agora, o sonho que me acompanhou:
Estou numa floresta, rodeada de árvores, vergada apenas pelo peso insuportável do azul do céu; amanhece, o sol surge lá longe, amarelecido, pálido, preguiçoso; contrariado; e o vento importuna as minhas folhas, incomoda-me, contraria a minha vontade de não ser tocada, acariciada. Pássaros a cantar, grilos e sapos e gafanhotos a chilrear; etc. Depois, chegam os homens com as suas máquinas ruidosas, rindo alto, cuspindo em cima dos arbustos; fumando. Os pássaros e os grilos e os sapos e os gafanhotos (e também os esquilos e os coelhos bravos e as raposas) cessam os seus devaneios vocais; calam-se: e o seu silêncio é a prova de que talvez nem existam. Os homens aproximam-se de uma árvore e cortam-na; de repente, percebo que até o vento fugiu. Sinto-me só, desamparada. A árvore cortada é arrastada, acondicionada, amarrada; em silêncio, não se ouve um único suspiro, uma única súplica; não há revolta nem indignação nem medo. Nada. Simplesmente: estava lá e agora já não está. Vejo a árvore desaparecer, envolta numa nuvem de pó e fumo originada pelo camião. E dentro do sonho, penso: estou a assistir à dramatização da estória que o anjo me contou. Mas no preciso momento em que penso isso, o sonho altera-se, tudo se altera. E percebo que, agora, sou eu, e não outra árvore qualquer, anónima, que segue amarrada no dorso de um camião. Há instantes de pavor, de fúria, de desespero. Mas, logo depois, vejo o céu deslizar sob mim, vejo as nuvens caminharem comigo, como se me pegassem pela mão; e sereno. Sinto, pela primeira vez, a volúpia do movimento. E quase gosto. Decido não me revoltar. Espero. Sinto. Usufruo. Por vezes, invoco a escuridão e tento alienar-me; esquecer. Mas sempre que desisto e enfrento o que me acontece, o que não posso controlar (pergunto-me, inconscientemente: uma condenação que até se pode revelar libertadora? Uma libertação que inexoravelmente será condenação?), sempre que encaro a verdade, sempre que olho, o céu mantém-se azul e uma nuvem branca acompanha-me. Penso: enquanto o céu for azul, estarei bem; penso: enquanto uma nuvem me acompanhar, não estarei só. E então, sinto apoderar-se de mim um estranho sentimento de indiferença: apatia em relação ao meu destino, vulnerável passividade. Percebo (aceito): o futuro não me pertence: espera-me; e é bom. Não importa, nada importa. Penso: sou uma árvore, uma simples árvore; um único pensamento meu vale mais que todo o universo; e, simultaneamente, a minha existência não vale nada, é brutalmente irrelevante. Olho o céu; e percebo que algo se altera na tonalidade, na matiz, no brilho, no movimento do azul. Suaves metamorfoses, imperceptíveis mutações; transfiguração: o azul mantém-se azul, sendo outro azul. De repente, compreendo: o que tenho perante mim já não é o azul do céu mas o azul do mar. Olho, deslumbrada: sim, é o mar; o branco das nuvens transformou-se no branco da espuma, o vento agora embala ondas e não nuvens. Nunca vi o mar (como poderia ter visto?) mas sei que estou perante ele. Sou, agora, uma árvore firmemente erguida sobre o amarelo da areia; as nuvens deixaram de me tocar, de me pegar as mãos; agora, são as ondas que me acariciam os pés. Sinto-me inebriada; lá do fundo de mim, vem a acusação da consciência: mas que disparate é este? Não tens mãos nem pés, tens ramos; a seiva esvai-se da tua madeira, pereces; enlouqueces; deliras. Admito que o meu lado racional poderá estar certo; aceito que poderei estar a assistir à minha morte, ou talvez à simples transformação em algo que ainda não sei o que será. Indiferença. Conforto. Paz. A brisa que forma ondas e as arrasta até mim é a mesma que se entrelaça nas minhas folhas; o sol balanceia entre o azul do céu e o azul do mar, os seus raios abraçam-me, abraçam-nos; imagino que me sorri, cúmplice. Agora, que já não estou prisioneira da terra, sinto-me parte da natureza, sinto a comunhão dos elementos concretizando-se em mim. Será isto morrer? Talvez. Gosto, é bom.
De repente, acordo. E o regresso à realidade é doloroso. Sinto as garras da terra envolvendo as minhas raízes, aprisionando-me. Adivinho o nascimento de um sentimento de revolta e impotência; mas, então, percebo que estás perante mim. E enquanto te falo, enquanto partilho contigo o que acabei de fantasiar, percebo que a revolta de dissolve, libertando-me. Falo-te: e a paz inunda-me. Percebo: és o meu mar.
Mas não podes ouvir-me.
Eu falo-te. Estás aí, consigo ver-te; não sei que pensarás, se pensarás. Finjo que me escutas, finjo que a tua aparente ausência é, na verdade, concentração no som da minha voz, no significado das minhas palavras.
Não consigo parar de falar. Quero falar-te-me. Dizer-me-te. Há uma vontade de me dar que nasce nas minhas entranhas e controla por completo o meu arbítrio, dilacera com uma facilidade constrangedora o meu autocontrole.
Quero partilhar-me, dar-te pedaços de mim. Por exemplo, dizer-te que: tão pouco tempo passou; e já não estou certa do que te disse, há momentos. Disse-te, peremptória, que não lamentava a minha imobilidade; é verdade, nunca lamentei. Sempre acreditei que a imortalidade, a quase imortalidade a que fui condenada, é uma forma de mobilidade; aliás: uma forma superior de mobilidade; não preciso de ir, é o mundo que vem até mim. Sempre me refugiei na crença da minha superioridade; sempre cedi à arrogância. Mas, agora, tu vens e... Confesso-te: apeteceu-me correr atrás de ti. Bastou um fragmento de dúvida, bastou ceder por um instante: e logo os fantasmas negros e lúgubres da incerteza se precipitaram sobre mim, dilacerando num único golpe todas as minhas certezas. Saboreei a dor da impotência, da dependência: virias quando quisesses, se o desejasses; e eu: nada poderia fazer. Sim, é verdade que poderia esperar durante décadas, poderia esperar para sempre; mas, e se nunca viesses?
Desculpa, não sei por que te falo assim. Não gosto destes novos (esquecidos) sentimentos que vejo nascer em mim; angustia-me esta percepção de que, afinal, sou apenas uma crisálida: e o único propósito da minha existência é dar origem a uma qualquer borboleta, a outro ser que nunca suspeitei ter em mim.
Na verdade, tenho medo. E não sei como te pedir ajuda.
Disse-te: não esperarei por ti; mentira: espero por ti. Disse-te: já me deste tanto. Mentira: ainda não me deste nada. Digo-te: quero-te, aqui, meu.
Digo-te, ainda:
Já não recordo a última vez que estive apaixonada; digo-te que, para ser sincera, já nem sei bem o que é estar apaixonada. Peço que compreendas: não sei se estou a apaixonar-me por ti porque já não sei o que é amor.
Agora, ergues-te e afastas-te. Não te despedes, não olhas para trás. Simplesmente, voltas a sair da minha vida. Hoje não falaste; falei por ti: mas não me escutaste. Limitaste-te a conceder-me a caridade da tua presença; nada mais.
Perguntaste-me: como é que as árvores fazem amor?
E eu respondi-te, gritei-te a resposta, é o que tenho estado a fazer desde que voltaste até junto de mim: falando, as árvores fazem amor falando. Será que não reparaste: tenho estado a fazer amor contigo. Mas tu foste incapaz de perceber: converteste o meu acto de amor numa pérfida masturbação. E agora foges, indiferente ao meus gritos silenciosos.
Odeio-te.
E é nesse ódio que percebo a origem do meu amor por ti.
Paulo Kellerman
Abril de 2003
IV
Sorumbático. Assim estaria hoje se fosse qualquer coisa para o que quer que fosse.
Hoje não falo. Hoje penso. Hoje lembrei-me que nem eu me conheço, que nem eu consigo perceber bem onde está a diferença entre o meu pensamento e a minha voz. E duramente lembrei-me: não tenho voz. Tenho a capacidade de conseguir ser ouvido pelos homens, de os iludir com sons que não existem, de me desviar de dialectos, línguas, “surdezes”, raças, credos, vinhos e até mortes. E ser ouvido por todos. Mas não sei como o faço. Tudo assiste à minha vontade: uma linha de pensamento faz-me acreditar que falo. E falo. Mas hoje não quero. E não falo. Que terrível comodismo assente na ignorância. Porque para mim é o mesmo. Porque eu nunca me ouço. Porque o meu timbre é o mesmo do das rochas. E cansa-me existir tão vagamente.
Sou um anjo. Mas para quê? Não fosse a minha dor e tudo me faria acreditar que não sou nada, ou melhor, se existisse em mim apenas a crença em alguma coisa, ainda que essa fosse “não sou nada”, acharia que seria um fragmento de qualquer coisa, no tempo do antes-do-nada, na iminência de me tornar qualquer coisa.
Então sou qualquer coisa, e acontece saber que sou um anjo. Mas se ninguém me vê nem eu, mas se todos me ouvem menos eu, que faço por aqui!
Completamente desenraizado de tudo sento-me ao pé de ti de novo. “Desenraizado”. Penitenciar-me-ia veementemente se em vez de pensar falasse, se em vez de ser ignorado me ouvisses.
Voltei a ti, não me afastei muito e decidi que melhor que procurar outras às quais como a ti poderia dar nome, seria voltar aqui. Como prometi.
Fiz uma aproximação tão humana quanto pude: imaginei passos que daria e imprimi uma cadência ritmada à minha viagem, ao meu (como me entristece) deslizamento.
Parei porque me faltava qualquer coisa...qualquer coisa de não natural marchava comigo para ti. Percebi: o silêncio. Faltava o som dos meus passos.
Passou alguém na tua direcção. Segui-o e olhei para cima. Ganhei passos. Ganhei dimensão humana.
E aproximei-me mais. Ansioso, senti-me ansioso. Quase que senti um coração acelerar-se em mim. A expectativa cresceu muito.
Comecei a conseguir distinguir-te da mancha impressionista que te envolve.
E foi exactamente no mesmo nanosegundo em que te vi que o meu animo se dissolveu. Eu vejo-te. Tu tens imagem, involuntariamente dás-te, existes. E eu nem para quem quero me consigo mostrar. Nem para ti.
Queria que me percebesses, que a minha chegada se anunciasse como a tua presença surge sólida. E sinto-me egoísta, e imbecil, e de novo: sozinho.
À medida que os teus contornos se me foram tornando mais nítidos pensei em ti, em como, deixando toda a verosimilhança de lado (nada é mais inverosímil que eu ), se me ouvisses, nada me poderia garantir: que me querias por perto, que não te incomodariam as minhas incertezas, que não te retiraria eu de uma existência feliz e resignada.
E foi então que decidi: hoje não lhe falo.
E cá estou eu, perto de ti. Se tivesse um corpo estaria agachado, com as mãos a segurar os pés e a cabeça entre as pernas.
Mas mesmo assim vejo-te. És bonita. Penso em algo que nunca antes me ocorreu: são as árvores os únicos seres vivos que conseguem sentir a juventude depois da velhice, num ciclo continuo e imutável.
Se tivesse lábios sorria. Levanto-me devagar e vou-me embora, esperando não te ter importunado.
Tomei uma decisão. Não sairei desta cidade durante uns tempos. Quero sentir-me familiarizado, quero acreditar na possibilidade que a inexistência, a transparência e o silêncio têm de se sociabilizarem.
Cheguei sorumbático. Parto aconchegado. De novo. E desta vez nem precisei de te falar.
Fábio H. L. Martins
Maio de 2003
(Clique para ler as partes I e II)